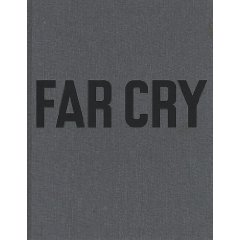sábado, 12 de maio de 2018
Paulo Nozolino, 3 entrevistas (1985-1996-2005)
sábado, 12 de outubro de 2002
Fátima Mendonça, 1996 (Arte Periférica), 1998, 1999 (Fernando Santos), 2001 (Prémio Maluda), 2002 (111)
2009: Exposição na Galeria 111, de 10 de Setembro a 7 de Novembro
#
Escritos desde 1994
FÁTIMA MENDONÇA, Arte Periférica, Massamá
Expresso Cartaz de 17-09-1994
Cartaz Expresso 18-11-1995
Cartaz Expresso 11 Jan. 1997
Arte Periférica, Dez. 1996 / Jan. 97
Os sapatos altos estão também, isolados, noutro quadro e vinham já de trás, da série exposta em 95, como acontece com as formas dos bolos e o rabo de touro, que agora se alinham a preencher outras duas paredes. Nas «estórias da menina mal-amada», como então as apresentava Rocha de Sousa, a criança-mulher surgira travestida de toureira, a ocupar o centro da arena, enfrentando o medo, fazendo-se temer.
O quarto é casa, «A casa do desarranjo» (título geral), e é cozinha, «a cozinha da minha mãe», com as formas dos bolos e os camarões, recheio culinário com uma presença invasora e grafismo obsessivo, com as receitas escritas e a contabilidade das vendas («ela fazia bolos sem parar»). Exercício de servidão ou castigo, modo de sedução, enquanto os rabos de boi se terão de ver como selvagem acção castradora («manso, sem casta, sem investida»), é sempre de um mundo de terrores e desejos que se trata («o medo, «malpropreté», «la douleur», «a doidita»), de um corpo que se observa, entre convenções e protestos, entre alimentos e fluidos, num espaço da ordem doméstica que é também o lugar da identificação sexual.
Sobre cada tela, o desenho e a escrita visíveis são como um véu último sobre uma sedimentação de ensaios apagados ou recobertos por sucessivas velaturas, como camadas sucessivas vindas à consciência, rasuradas ou expostas.
1998
Fátima Mendonça
Casa Fernando Pessoa - 14-02-98
"Fátima, Joana, Sofia"
Três exposições de mulheres artistas põem em questão a ideia de pintura feminina
Existe uma absoluta continuidade narrativa no trabalho de F. M., construída pela intimidade de um universo povoado por referências recorrentes, e o uso da escrita sublinha mais ainda essa dimensão literária, que já não é objecto de desconfiança para a crítica «pura». Reconhece-se em algumas obras femininas uma radical capacidade de auto-exposição e intimidade, mas o exercício da projecção também se confunde com o gosto da teatralização, e entre exorcismo e fingimento não há aqui lugar para a ideia de verdade (ou de retrato e biografia), mas sim para a de construção de uma obra.
«Yes Y want to look like this forever» é um comentário que, com variantes, acompanha os exercícios de uma bailarina-ginasta, desenhada com a elegância de um corpo de modelo, por vezes vulnerável à deformação, à queda (alguns corpos que se levantam lembram curiosamente os de Maria Beatriz) e também ao ridículo de um estereótipo – «No no she is ridiculous, but I like her hand...». A escrita que acompanha a imagem identifica a relação com o corpo próprio, ameaçado pelo tempo, enquanto a inclusão de desenhos infantis é justificada por uma muito concreta relação entre mãe e filha: «My daughter Madalena did this to help me...». Noutros trabalhos, J.R. usa a figura da fada importada do mesmo diálogo com a filha, assumindo-a como projecção de sonhos e terrores que não são apenas infantis. Uma última série de trabalhos radicaliza ainda a presença do texto (...a carta ou o diário), jogando com a colagem, a ocultação e a transparência, com a leitura fragmentária e a ilegibilidade.
Não se tratou, é obvio, de ilustrar a alegria, mas, de algum modo, de tomá-la por programa ou disciplina, referindo-a num exercício de aparentemente despreocupada liberdade da mão, com uma expontânea expressividade que é também acaso calculado e secreta sabedoria, para entregar ao espectador a impossível e inútil tarefa de localizar um sol, uma flor, uma asa, talvez um riso. Poderá ser mesmo na impossibilidade da palavra perante uma explosão vermelha, uma onda azul, uma fresta negra, uma diferença entre brancos, que reside essa alegria.
A pintura de S. A. exercita-se sem rede e sem norma, correndo sempre o risco de desafiar a necessidade de uma razão justificativa, mas «no fundo, a questão é saber qual o significado do significado – há perguntas que não se fazem; há coisas que não se dizem», como se lia, a propósito de um espectáculo de Bob Wilson num texto da anterior «Revista».
#
1999
«Gosto da Minha Casinha 9», 1999
"Três artistas no Porto"
Expresso Cartrtaz de 27 de Novembro de 1999
CARLOS CARREIRO, Árvore (até 7 de Dezembro)
FÁTIMA MENDONÇA, Gal. Fernando Santos (até 31 Dez.)
PEDRO CABRITA REIS, Museu de Serralves (até 23 Jan.)
E é uma mera coincidência, mas uma curiosa coincidência, que o primeiro seja um nome que se destaca entre os artistas surgidos em anos tão pouco favoráveis a consagrações como os 70; que a segunda chegue numa posição de amplo reconhecimento ao final desta década, contrariando os estereótipos com que se pretenderam identificar os jovens dos anos 90; que o terceiro seja uma figura central entre os artistas dos 80 que hoje lutam por sustentar a notoriedade alcançada, esquecendo-se tantas vezes que as obras se constroem em itinerários em geral longos e atravessados por altos e baixos, convulsões e viragens.
Carlos Carreiro dá às suas pinturas um título geral, «Dos Truques do Adamastor à Vingança dos Perus», que as situa de imediato no seu terreno habitual da celebração do imaginário, onde impera a fantasia, o humor e também algum comentário corrosivo. Com as novas obras, que, entre outras motivações pessoais, terão tido algum ponto de partida concertado com o calendário comemorativo dos Descobrimentos – lá estão, na tela maior que é referida na primeira metade do título geral, as caravelas e bandeiras pátrias, uma torre de Belém de barbatanas a tentar andar em direcções opostas, um Adamastor marionetista (seria imperdoável que este exemplo excepcional de «pintura de historia» no presente não tivesse destino institucional,... mas não podemos ter ilusões sobre os museus que temos) –, assiste-se a mais uma inflexão fortemente afirmativa do trajecto de pintor, prosseguido como um percurso original e solitário, marginal, se se usar o termo com sentido positivo face a valores correntes e dominantes.
A sua figuração luxuriante e minuciosa constroi-se como uma agregação interminável de personagens (históricos ou actuais, humanos ou animais) e de objectos (de consumo, máquinas e plantas, reais ou de fantasia – sem esquecer as metamorfoses entre personagens e objectos), em situações e lugares imbrincados num contexto narrativo absurdo e sem leituras unívocas. Em vários quadros, a acumulação de figuras e histórias organiza-se seguindo uma pista de flipper que pode transformar-se em estrada, filme ou intestino, numa sequência vertiginosa de invenções e citações (de estilos e de imagens, populares e eruditas), distribuída num espaço indefinível e labiríntico, ao mesmo tempo exterior e interior, de paisagem sonhada ou cartografia alucinada. Com barcos-vagens, carros-lulas, químicos e alquimistas, personagens de animação e BD, tigres gulosos, células invasoras, universos subterrâneos, flores e borboletas.
Reciclando com uma nova inventividade toda a obra anterior, a renovação de Carreiro passa agora pelo abandono da coloração fria da sua fase anterior, quase uniformemente azul com incrustações de objectos de cores «pop», na explosão de uma policromia com intensidades mais quentes, percorrida por estranhas constelações de pontos de luz. Talvez não seja impossível comparar a sua pintura à de Clovis Trouille, pintor maldito que os surrealistas anexaram em 1930 e é agora objecto de retrospectiva em Paris. Também inclassificável, Trouille associou a veia libertária a uma pintura de aparência académica, falsamente «naïf», em cenas eróticas de sentido anticlerical e antimilitarista; Carreiro serve-se livremente de todas as convenções antigas e modernas, passa do «kitsch» à ficção científica, e pratica o humor e a poesia com uma soberana ironia.
Fátima Mendonça estabelece com a série de telas «Gosto da Minha Casinha» um momento forte de continuidade e abertura no curso da sua pintura, identificada como a exploração mais ou menos ficcionada de um coerente imaginário pessoal de infância ou adolescência feminina, mas onde agora será talvez possível reconhecer a abordagem de outros tópicos ou tempos menos referenciáveis, sempre associados a um discurso narrativo supostamente autobiográfico que continua a surgir caligrafado sobre a tela.
É a paisagem – «simultaneamente, o mundo exterior e o mapa interior» (Ruth Rosengarten no catálogo) – que predomina na nova série, em obras em geral de grande e muito grande formato. Por duas vezes vista em panorâmicas sem linha de horizonte, focadas sobre campos estriados que marcam uma volumetria imaginária de colinas muito verdes (quatro linhas atravessam o quadro repetindo «errei»), ou de onde emergem plantas rapidamente esboçadas («minha flor») – noutro quadro um idêntico espalhamento distribui sapatos altos de mulher pelo espaço-campo quase liso da tela (mas a intervenção escrita refere couves e «o teu jardim»). Em mais duas telas a casinha do título é vista à distância, centrada entre árvores e montes, em imagens de um grafismo falsamente escolar imerso em manchas de cores doces e «ingénuas». Mas o mundo pode ser também cruel e incendiado (os coelhos embrulhados, a floresta em chamas).
Usando o óleo em barra para desenhar e colorir, ou o óleo muito diluído em manchas de ténues transparências, Fátima Mendonça oferece com ironia, desde o título, as pistas da leitura psicanalítica de que pode precisar-se para «explicar» a sua pintura. Mas os quadros sustentam com notório êxito uma visibilidade menos literária e redutora: eles inventam novas paisagens, contam histórias visuais, deslumbram e inquietam.
Pedro Cabrita Reis é objecto de uma antologia que estabelece a exacta sucessão desde a mostra do CAM, em 94, retomando três obras então expostas (colecção de Serralves ou aí em depósito) e acrescentando informação sobre um itinerário posterior que foi pouco visto em Portugal e contou com participações nas Bienais de Veneza e São Paulo, fora das representações oficiais portuguesas.
Quatro lugares decisivos marcam a montagem: uma construção no pátio de acesso ao Museu, cuja longa parede articulada e encimada por guaritas, recoberta por tela metalizada de alcatrão – Cidades Cegas # 5 / o Eco –, é associável a memórias de campos de concentração (Auschwitz, muro de Berlim, talvez os condomínios privados do presente); já na sala central, Sem Título, uma outra guarita com um mastro de bandeira derrubado e um feixe de lâmpadas de néon; depois, o corredor interior do Museu percorre-se entre construções de alumínio e cartão, elevadas e adossadas às paredes, lembrando habitações precárias ou também postos de vigilância (Cidades Cegas # 2); por fim, Catedral # 3, intervenção na grande galeria final do percurso que rasga as paredes brancas de Siza com o início de quatro outras paredes de tijolo só precariamente aparelhadas.
Concebidas ou readaptadas em função do espaço físico onde se mostram, são também peças arquitectónicas em si mesmo, como quase desde o início sucedeu com a escultura de Cabrita Reis. Porém, enquanto as peças anteriores faziam referência a modelos arquetípicos (poço, fonte, canal, mesa, casa) ou se viam como construções enigmáticas (lugares de concentração de energias, de observação cósmica, etc), as novas arquitecturas podem ver-se como comentários sobre a cidade actual, evocando lugares concentracionários ou de vigilância, ao mesmo tempo que se referem, especialmente através dos materiais empregues e das soluções construtivas (tijolo, cartão usado e tábuas, caixilharia, etc), às arquitecturas improvisadas das marquises e dos bairros de lata. São obras que ocupam com grande força cenográfica os lugares de exposição, respondendo de modo afirmativo (enfático, por vezes) às solicitações das grandes mostras internacionais onde imperam as montagens «in situ», as estratégias instaladoras e a grande escala dos objectos, até como condição de visibilidade, ao mesmo tempo que parecem assumir uma dimensão crítica sobre o estado do mundo, com referências à pobreza, exclusão e repressão.
Entretanto, a antologia dá também largo espaço ao que pode continuar a chamar-se pintura, embora se deva notar que a pintura actual de Cabrita Reis transporta igualmente poderosos vínculos com a arquitectura, desde logo pelo uso pictural de materiais ou equipamentos de construção. Dobles Pinturas Negras #2 e #4 (Madrid), de 98, serão mais uma contribuição para a linhagem do monócromo, em dípticos de placas de vidro, rectângulos ou círculos, onde a aplicação de pintura negra se faz, em cada elemento, sobre ou sob a superfície do suporte – elas decorrem da apropriação de caixilhos de portas encontrados e da montagem de vidros com aplicação de esmalte dos Lisbon Gates mostrados no CCB em 97 («For Heinner Muller»). Cabinet d'amateur #1 (Serralves) é uma disposição de inúmeros dípticos formados por campos de cor lisa, onde é a cenografia que volta a sustentar a eficácia das partes. Sempre com uma energia reconhecidamente intensa, com uma elegância certa, as últimas obras (vejam-se a grande porta de Table Dance e a pintura Flor Negra, em confronto com a menoridade de «Os Últimos», pequenos auto-retratos desenhados) estão às vezes à beira da facilidade retórica e de um uso defensivo das grandes escalas.
Nota: Chegam este fim de semana ao seu termo as exposições de António Júlio Duarte e Augusto Alves da Silva, de fotografia e vídeo, apresentadas pelo Centro Português de Fotografia na Cadeia da Relação; referidas em artigo anterior, são outros dois grandes momento do programa expositivo do Porto, que parece impor-se já como capital cultural. Assine-se, entretanto, a saída do livro Peepshow, de A. J. Duarte, que se impõe como uma das melhores edições do CPF.
#
24 Novembro 2001
Prémio Maluda para Fátima Mendonça
Na terceira edição do prémio anual de pintura atribuído a uma jovem artista
Tendo exposto regularmente, desde 1994, na Galeria Arte Periférica, a pintora fizera também uma exposição individual em 1999, no Porto, na Galeria Fernando Santos, que apresentou os seus trabalhos nas feiras de Madrid, Lisboa e Colónia. Nascida em Lisboa em 1964, Fátima Mendonça licenciou-se em Pintura na Escola de Belas Artes desta cidade, em 1990. De acordo com a acta divulgada, o júri considerou «uma pintura de agilidade discursiva e provocatória servida por uma expressão pessoal impulsiva em que se confrontam duas realidades, uma imaginária e outra de conteúdo crítico.»
A artista apresentara pinturas e desenhos de grande formato onde dava sequência a uma produção de reconhecível teor narrativo, construída com referências a situações relacionais de infância e de afirmação feminina, onde o enfrentamento conflitual com o mundo é vivido entre a sedução e a culpa, o desafio e o pesadelo, enquanto a inscrição de palavras e frase lhes confere a sugestão de um diário emocional, de cunho confessional ou ficcionado.
Uma frequente evocação do espaço doméstico (a casa, a cozinha, que antes se alargara a um original tratamento da paisagem) surgiu nessa última exposição dramatizada por uma veemência gestual inesperada, enquanto uma iconografia recorrente - bolos, coelhos, corações, sexos - assumia uma intensidade expressiva de apocalíptica, em cenários interiores claustrofóbicos ou incendiados. Em alguns trabalhos, a arena de circo ou de tourada (e a figura de uma mulher toureira ou equilibrista, enquanto personagem auto-referencial) voltavam a estar presentes como metáforas de um mundo de espectáculo e lutas cruéis.
Com um percurso individual e de crescente notoriedade, Fátima Mendonça é um dos artistas que mais se destacaram ao longo dos anos 90, embora à distância do que alguma crítica e as instituições dominantes (onde nunca expôs, aliás) procuraram estabelecer como as tendências características da década, das quais quase sempre se pretendeu excluir a prática da pintura. Mas por vezes, como agora sucedeu, reconhece-se que é à margem dos estilos colectivos que se constroem as obras que mais importam, as criações pessoais, independentes e originais.
Mais um episódio da história que Fátima Mendonça vem contando em pintura
Galeria 111, Porto, até 9 de Novembro
«O pai, o João, eu com o meu vestido de couves e a mãe arranjados para a fotografia». Retrato de família, portanto, da fotografia à pintura, protagonizado por um eu-menina onde a pintora se projecta, devassando memórias e fantasias de infância ou tecendo-as como uma ficção continuada, com que nos enleia de exposição em exposição, crescendo como pintora. Em vez de cabeças, quatro grandes sacos de bolos sobre o fundo quase branco, apenas esboçado, todos cheios de doces redondos com uma cereja em cima. Retrato paródico ou cruel que prolonga um grande desenho da exposição anterior, onde uma menina-bailarina dançava entre coelhos, com a sua cabeça de bolos, segurando duas bandarilhas-espetos com mais bolos, a enfrentar a vida - «eu tenho muito medo», lia-se. As bandarilhas vinham de uma menina-toureira deixada sozinha na arena, que noutros quadros passou a ser pista de circo, e então a menina-acrobata equilibrava-se sobre o arame com as suas asas feitas de bolos, «do tamanho de pequenos punhos de criança», numa exibição mais que desajeitada («andar e voar e fazer có, có, cócó», escreveu ela numa das obras desse ciclo, não fossemos não querer reconhecer o que víamos). Os dejectos, envoltos em invólucros ovais, em ovos, aparecem agora a preencher o espaço imenso (mais de dois por três metros) de uma tela que já se vira na Arco, em versão entretanto retrabalhada, toda ela rodeada por um mimoso folho de tecido e lã, onde, entretanto, à referência à «casa cagalhona» se somou o subtítulo «Incubadora».
A forma redonda da arena das touradas, da pista do circo, da gaiola que prendia a menina-pássaro, da rede circular onde, na exposição de há um ano, se acumulavam corações bem vermelhos («eu tenho de chorar mas esqueço-me porquê»), da forma (fôrma) de bolos e da grelha do fogão, é agora incubadora e dela nascem «meninos com creme de chocolate e meninas com doce de morango» («bolos para te agradar»). São as novas personagens das mais recentes obras de Fátima Mendonça, «bolos de pão, como filhos», acompanhados pela respectiva receita e pelo registo laborioso das centenas de unidades diariamente produzidas na fábrica doméstica, a cozinha de tantos outros quadros: «Para te fazer não tem nada que saber», afirma o título da exposição.
Os bolos-filhos surgem bem reais como pães comestíveis numa instalação-montra e também em vários grandes desenhos a pastel de óleo, saindo de uma grande forma de bolos que se prolonga em vestido de menina (a mesma rede circular, prisão, casulo e ventre) visto pendurado num cabide ou, noutro caso, desajeitadamente envergado («o vestido do inferno») - e aí, decifrando as garatujas e percorrendo os escritos, vêem-se sexos femininos, «as minhas vergonhas» de outros quadros, urinando para o ar («como um rapaz»). Não estamos na cozinha, de facto, mas na vida, a enfrentar o mundo com terrores e desejos, escavando a memória entre o exorcismo e a ironia.
«Deixar que este universo mental tenha uma vida visual, que encarne uma turbulência que não se limite a desenvolver um relato literário ou memorial é o desafio permanente desta obra em cada momento que ela se revela», escreve Celso Martins no seu prefácio para o catálogo. Desafio vencido. A narrativa não se substitui ao que está a acontecer sobre a tela ou o papel, fixada antes de surgirem (como sucede na ilustração e na pintura literária) os desenhos pintados com a urgência aqui visível das suas grandes pinceladas negras e das manchas invasoras, de vermelho-sangue: o que importa passa-se à nossa frente, no espaço branco do suporte, como um desafio oferecido à nossa própria capacidade de imaginar. É o impacto visual de cada obra, tantas vezes com a violência do grito, que nos faz precisar de um fio narrativo que «explique» o que vemos, obrigando-nos, para segurança nossa, a decifrar as anotações escritas ou rasuradas, a reconhecer personagens e a inscrevê-las na «estória» já longa da obra de Fátima Mendonça, que não importa se é ou não a sua história pessoal, íntima. Como acontece com Louise Bourgeois (a mãe-aranha, a oficina doméstica de restauro de tapeçarias, o quarto-cela) e com Paula Rego, por exemplo, mas os exemplos seriam quase todos femininos, o teatro do mundo está muito próximo da vida, a arte conduz-nos por abismos e sonhos reais, tão fundos que raramente os podemos ver.