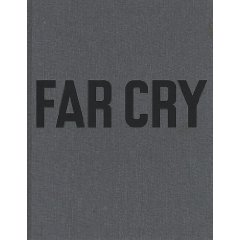1985 Limbo, Gal. Módulo. Entrevista I, “Só posso fotografar a minha vida”
1996 Penumbra, CCB. Entrevista II, “Chegar à alma”
2005 Far Cry, Museu de Serralves. Entrevista III: “Continuo a afiar o lápis”
#
ENTREVISTA I, 1985
por ocasião da exp. "Limbo", na Módulo
Paulo Nozolino: «Só posso fotografar a minha vida»
EM LISBOA fica a câmara escura de Paulo Nozolino, a base de uma actividade que se dispersa na aventura das viagens e na quase rotina das exposições ou publicações. Em Lisboa também, na Módulo precisamente, estão agora as suas fotografias, três anos depois de uma primeira mostra que daquela errância dava testemunho: trata-se de um duplo regresso, porque o que Nozolino exibe sob o titulo «Limbo» são as imagens de «um voltar a casa», o retrato de um tempo e um ritmo portugueses. E sempre, aliás, o seu auto-retrato. Aos 30 anos, Nozolino tem portfolios publicados em «European Photography», «Cliches», «Camera International». Antes frequentou o London College of Printing. Vai expor em Valência, na Austrália, num museu do Texas e na Suíça. «Destino desconhecido» - acrescenta o próprio à biografia do catálogo de «Limbo».
EXPRESSO - No dicionário, «limbo» é um lugar para onde vão as almas, pode ser o que não tem valor, o esquecimento... qual é a ideia presente no título da exposição?
PAULO NOZOLINO - A ideia é que realmente me sinto um bocado a viver neste país, neste momento, no esquecimento, o que não tem nada a ver com o que se passa no meio artístico, literário ou político. É outra coisa. Sinto que estamos numa posição litoral, em relação à Europa e de certa maneira estamos esquecidos. Há um tempo, um ritmo de vida e um estado de alma neste país que está no esquecimento e que não tem a ver com nada. Somos nós.
EXP. - A anterior exposição, em 1982, mostrava fotografias de viagem e esta sugere o contrário, a procura de pontos de fixação, e permanência…
P. N. - Sim, corresponde a isso. A minha fotografia sempre esteve ligada à viagem e a fotografia de viagem é por si uma coisa momentânea e fugaz. Estas fotografias são precisamente tiradas nos tempos mortos de não viagem, nos tempos em que estou aqui e em que vou ter de lidar com o meu passado e... provavelmente com o meu futuro.
EXP. - Daí o predominio do retrato?
P. N. - Quanto ao retrato a questão é complicada - por um lado considero estas fotografias como retratos e por outro não. São retratos, na medida em que estou a fotografar uma pessoa, a concentrar-me na cara dela e em traduzir o que acho que é como pessoa. Por outro lado, estou a tentar apanhar uma coisa que não tem a ver com ela e tem a ver consigo, comigo e com todos nós. Estou a procurar no pessoal arranjar uma explicação universal. Parto com um pressuposto, aquelas pessoas interessam-me porque as conheço, porque são minhas amigas, e para mim representam uma coisa que vou tentar concentrar numa fotografia. Não estou a retratá-las, não estou a apresentá-las aos outros; estou a usá-las para as fazer dizer aquilo que quero que elas digam e é uma coisa que provavelmente só existe em termos de imagem.
EXP. - Numa referência do catálogo refere-se o seu trabalho como o projecto de uma «autobiografia nómada». O que significa isso?
P. N. - A única coisa que eu posso fotografar é a minha vida e esse é o meu ponto de partida e a minha realidade. É isso que tenho feito. Agora digamos que houve um voltar a casa. Acho, aliás, que há de certo modo um retorno ao primeiro livro, o Para Sempre, que é no fundo o desvendar de onde eu venho, daquilo que me rodeia. Depois houve um período de viagem, no sentido de deambulação, de circular sem outros objectivos do que seguir uma direcção no mapa.
Mistério das coisas
EXP. - Esses itinerários não tinham a ver com o passado da fotografia, com fotógrafos anteriores?
P. N. - Não, embora se tenha dito isso, que foi um revisitar de «capelinhas». Muitas coisas vim a saber só em seguida que já tinham sido fotografadas, mas não se pode estar sempre com o peso da história em cima de nós.
EXP. - Falou-se em concreto de Robert Frank. É importante para si?
P. N. - É importante na medida em que é um coincidir com um percurso meu, mas não será uma influência tão importante como aquela que me quiseram atribuir. Acho que sou tão influenciado por um livro como por um quadro, como por uma conversa com um amigo; não há ninguém que eu possa eleger como um mestre, embora considere que há alguns fotógrafos que têm uma coerência ao longo de todo o percurso maior do que outros. Robert Frank por exemplo.
EXP. - Citou-se também Wim Wenders e O Estado das Coisas... .
P. N. - Isso foi dito em Paris, talvez por pessoas que não devem ter visto um trabalho como o meu há muito tempo, e realmente a referência mais próxima deste tipo de imagens tem a ver com o cinema, com o Wenders e o Jarmusch. Há pouca gente a fazer imagens com grão e a fazer fotografia de viagem; as pessoas não se movimentam tanto, hoje em dia, e acabam por estar a fotografar naturezas mortas em casa.
EXP. - Voltou a ser possível fazer fotografias em trânsito, surpreender coisas?
P. N. - E uma questão de estar aberto a isso, de se querer estar nesse estado. Acho que é inseguro para os tempos que correm trabalhar assim, as pessoas gostam de ter certezas à partida e arrisca-se muito mais apostando na sorte. Se tivesse um processo de trabalho previamente concebido, todo um conceito a delimitar-rne, produziria certamente muito mais, mas não haveria sentido da descoberta, nem sentido do mistério das coisas.
A evidência política
EXP. - Esse sentido da descoberta estava ausente de muita da fotografia recente, por exemplo em quase toda a fotografia conceptual. ..
P. N. - Ninguém que olha de facto para a fotografia considera isso fotografia. Só os artistas plásticos e alguma vanguarda, mas de facto a fotografia só foi um suporte para eles. Eram jogos - o cultismo e o conceptismo da imagem. A fotografia é muito mais do que isso; é uma coisa que tem de se aguentar numa parede e permanecer ali misteriosa, desde o primeiro momento em que se viu e até sempre; não pode ser obviamente inteligente, «clever» como dizem os ingleses. O meu trabalho não tem nada a ver com essas fotografias dos anos 70 e é provavelmente por haver essa falta de referências que me atiram para trás e fazem referência a Frank e a outros da década de 50, que estavam preocupados com outras coisas que coincidem hoje com as minhas preocupações.
EXP. - Também não é um regresso à foto-reportagem. Nunca a praticou, a foto-reportagem?
P. N. - Fiz aliás várias: um trabalho sobre a captura de golfinhos em Inglaterra e outro sobre todo o movimento punk, em 75-76, em Londres, basicamente retratos e também o meio ambiente, e sempre com a ideia de que se tratava de foto-reportagem. Acabei por chegar à conclusão que era inútil fazer um trabalho desse tipo, e as razões são muito simples: eu acabava por ter uma ou duas fotografias que diziam o que poderia mostrar em 30. Deixei de todo de tentar explicar as coisas, porque se acaba sempre na questão de que tudo é um problema político - não há nada que se tente explorar a nível de foto-reportagem que não bata na grande barreira do problema político: é esta força contra aquela, esta luta contra aquela, isto não anda para um lado ou para o outro, etc - e realmente fazer coisas usando o humanismo como base pareceu-me inútil.
EXP. - O discurso político é um risco que surge ...
P. N. - Não é um risco, é uma evidência a ser ignorada.
EXP. - Uma evidência que foi o quadro de fundo de grande parte da fotografia.
P. N. - Nos anos 40 e 50 acreditava-se em coisas em que já não se acredita. O que se vem a passar de 70 em diante é que a fotografia deixa de estar subordinada às grandes revistas e o uso dela deixou de ser politizado; deixou de se acreditar que com uma fotografia se pode mudar o mundo, e há pessoas que se contentaram em fotografar uma manga do casaco e a ficar contentes com isso. A prova é que alguns o fizeram e muita gente ficou a pensar duas vezes.
EXP. - No retrato está presente uma encenação, a pose?
P. N. - Acho que isto não são retratos, no fundo são auto-retratos. Mas o problema da encenação é complicado; já disseram que há uma encenação da luz. Normalmente fala-se em encenação como o encenar do sujeito... Toda a gente está minimamente a encenar-se a ela própria quando vê uma máquina apontada para ela - mas eu acho que não se põe de todo o problema da encenação: são pessoas que eu conheço muito bem e que estão habituadíssimas a ser fotografadas por mim. Trata-se de escolher, do muito que foi fotografado, momentos em que as pessoas se estão a esquecer que estão a ser fotografadas e em que eu me esqueço também... , são momentos fora do contexto de «eu estou-te a fotografar e isto é um acto grave, etc.» Ninguém está a pensar no que vai sair.
EXP. - A atitude é afinal próxima da que acontece com um instantâneo.
P. N. - O instantâneo sempre foi possível, é uma questão de predisposição para isso ou não. O meu processo de trabalhar não mudou, a única coisa que mudou foi a proximidade em relação aos objectos. Antes havia em todas as fotografias uma distância de 2,5 ou 3 metros, e agora a maior parte é tirada de muito perto. Há da minha parte uma vontade de me aproximar das coisas.
EXP. - As casas, os contrastes de luz na paisagem ou nas casas, o sol e a penumbra, vão pontuando a exposição e dão-lhe um carácter narrativo. É essa a intenção?
P. N. - A exposição está estruturada de maneira que à medida que nos vamos aproximando do fim a luz vai deixando de ser natural para passar a ser artificial e acaba quase na penumbra. É a razão por que estão lá essas fotografias, para haver essa marcação de falta de luz, que é o que vai envolver as pessoas e as fazer destacar dos fundos, ou eventualmente as encobrir. O projecto inicial de «Limbo» começa com fotografias de viagem, passa por retratos e acaba em três ou quatro paisagens de pedras. O que aliás, já está alterado: da pedra, do inorgânico, passa-se de novo ao orgânico. Isto não tem fim, excepto quando fizer o livro.
A questão que se punha era, de certa maneira, como retratar o sítio onde vivo, neste momento, em 1985, e como o fazer com as coisas que me estão mais próximas. Limbo é um estado de espírito. Isto aqui, agora, é o limbo.
#
entrevista II, 1996
por ocasião da exp. "Penumbra", no CCB
(Expresso Revista de 27-04-96, pp. 126-7)
"Chegar à alma"
Uma exposição e um livro: "Penumbra" (co-ed. Scalo, Zürich / Fundação das Descobertas / Centro Cultural de Belém, 1996)
Viagem aos abismos do mundo árabe e da fotografia. As imagens e as palavras do autor. Entrevista e crítica
Acumular fotografias
Este trabalho não começou por ser um projecto deliberado: houve fotografias que se começaram a acumular. Já tinha feito uma viagem a Marrocos em 1983 e descobri que essas fotografias tinham características completamente diferentes das outras que eu fazia. Em 1990 fui à Mauritânia e dois anos depois ao Cairo. A seguir ao nascimento da minha filha, passei um ano praticamente a ocupar-me dela, em Paris, sem fazer fotografias, com grandes dificuldades financeiras. Foi um período muito difícil, tinha imensos projectos que arrancavam e paravam, e acabei no desespero. Estava há um ano parado, tinha que sair. No Egipto, achei que há muito anos não me acontecia produzir tão boas fotografias em tão pouco tempo.
Era óbvio que todas estas fotografias dos países árabes que estavam a ser acumuladas tinham a ver com qualquer coisa. Foi isso me motivou a acelerar o processo e então já estava a pensar em termos de projecto. Tinha de voltar. Comecei a pedir bolsas, em França, obtive a bolsa Vila Medicis e o Fundo Nacional de Arte Contemporânea, de Paris, comprou-me dez fotografias da série do Cairo. Parti para a Síria, a Jordânia, o Líbano, até acabar no Iémene, onde senti que tinha chegado ao fim.
Podia ter continuado, há sempre a tentação de uma espécie de suicídio na paisagem. Quando se começa a andar no deserto tem-se uma sensação estranha, que é subir a uma duna para ver o que há a seguir, tem-se uma vista e quer-se continuar. Sobretudo no deserto da Jordânia, tive várias vezes essa sensação, a vontade de continuar, continuar, continuar...
Mas um projecto já contem em si algo de mortífero, porque se sabe que temos de o acabar, e é bom ter a sensação que se chegou ao fim. No Iémene tive a sensação perfeita que tinha chegado ao fim do rolo, quando uma noite encontrei um árabe num café, sozinho diante do seu chá, que me olhava e que era de facto muito parecido comigo (é a última fotografia da exposição).
Mas tinha sido necessário atravessar o deserto para compreender o que eram os árabes, aqueles que tinham vencido o «outro» na planície de Alcácer Quibir. O povo árabe era um enorme mistério para mim, que sempre me senti como um infiel ao meu país, à minha lingua, à minha cultura, um quase traidor. Estive sempre obsecado pela ideia de saber como funcionavam aquelas cabeças e como é que era viver naqueles países. E cada vez que lá ía era um alívio, era a experiência do vazio, de um mundo sem nada.
Nomadismos
Durante anos, no fundo, andei a deambular. A viagem tinha um sentido de deambulação, era uma questão de curiosidade, de ir à procura de um lugar encontrado no mapa. Mas isso é quando se tem 20 anos. Aos 40, há questões financeiras a resolver, crianças a calçar, há toda uma estrutura atrás, de maneira que as viagens começam a ser expedições localizadas. Mas a viagem é agora extraordinariamente mais intensa. No fundo, os projectos nascem depois de deambulações, porque é a deambular que se descobrem as paixões, e uma vez que está descoberta a paixão tem de se ir até ao fim.
Depois de vinte e tal anos de carreira, senti em mim a necessidade de focalizar o trabalho e de ser objectivo sendo o mais subjectivo possível, tentando que o trabalho não tivesse nada a ver comigo, embora no fundo acabe sempre por ter...
Com o tempo, cada vez gosto menos de viajar e cada vez sou mais obrigado a viajar, porque sou contra o isolamento. Mas a viagem para mim deixou de ser o lazer que era para passar a ser trabalho, e é de facto trabalho quando se tem de andar todo o dia no deserto, com 50 graus e o cansaço da marcha, por mais ligeiro que seja o equipamento.
O nomadismo foi para mim um estado de espírito ligado a uma certa «insouciance de vivre», uma espécie de doçura de viver que se tem aos 20 anos e que já não se tem aos 40. Os nómadas com quem vivi no deserto têm essa espécie de desprendimento, de 'insouciance' em relação a tudo o que é material, e no fundo continuo a pensar que isso é importante. Desde que haja o mínimo, para quê ter mais? E eu tenho um certo gozo em partilhar isso, porque sou também um bocado assim: porque hei-de estar a querer mais e mais e mais, se duas maçãs me chegam? São países muito complicados, por variadíssimas razões, mas são fascinantes, precisamente porque há essa espécie de viver com nada, essa espécie de grau zero, de minimalismo, mas é preciso andar muitos quilómetros para se chegar a ter a noção, para já, de que isso existe e também para ganhar distância em relação ao que é autobiográfico e próximo, que com o tempo acho que comecei a ter.
Grau zero
Eu não sou um fotojornalista, alguém que vá cobrir um acontecimento para fazer a fotografia que mostre o que se está a passar no momento. O que me interessa é o que subsiste depois da passagem das coisas. E, no fundo, a grande lição que tive nos países árabes é que a presença humana, quer a presença actual quer histórica, é ao mesmo tempo muito forte e tão efémera como a poeira que fica nas botas depois de um dia de marcha. A única coisa que me interessava destilar nisto tudo é o espírito desse povo. É isso que procuro, chegar à alma das coisas e das pessoas.
Na escolha dos países que percorri, houve uma deliberada vontade de não visitar países como a Argélia, a Líbia, o Iraque, porque não queria ser confrontado com uma coisa que eu já sabia que existia, que é uma intolerência terrível, a brutalidade de governar, em países onde a lei de Talião ainda existe, onde se cortam mãos e fazem decapitações. Há uma fotografia que tem uma arma, mas é uma espigarda de ar, que nem sequer é mortífera. Quis abolir tudo o que tivesse conotações com violência, com a religião no sentido integrista da palavra, com todo o extremismo, para ficarem apenas imagens que sejam como uma espécie de resíduo básico, como um grau zero do que é esse povo.
Quando começou a ser necessário procurar um título para este livro, «penumbra» veio-me ao espírito porque é aquela meia luz com que fotografei as pirâmides em Gisé, ao cair da noite. O nome vem daí e quando fui ao dicionário ver o que era «penumbra», entre outras coisas diz que é uma existência sem gloria, o que, no fundo, me parece ser também o que se passa nos países árabes. As pessoas vivem de uma maneira muito dura, por exemplo, têm de caminhar quilómetros para dar de beber à família e aos animais. Muitas vezes tive que mostrar o meu passaporte para provar que tinha 41 anos porque eles não queriam acreditar, porque com 20 anos parece que têm 50.
Cada vez que eu partia, o meu saco era sempre mais leve, porque sabia que ía ter de carregar com ele, mas cada vez que voltava estava mais rico, porque acabava por ter, de vez em quando, essa espécie de pérolas que nos são dadas a ver e que temos a agilidade, a rapidez de captar. Por isso é que continuo a tirar fotografias, por ser surpreendido. Sei que tenho de andar muito e que há dias e dias que se passam sem se tirar uma fotografia. E, de repente... Acredito imenso no acaso, mas quanto mais concentrado se estiver, quando se está a trabalhar, mais possibilidades existem de se estar aberto a captar o invisível e o que nos é oferecido.
Luz e sombra
O meu processo de trabalho é finalizado na câmara escura e é óbvio que ela tem uma importância enorme no que faço. Mas o começar a reduzir manchas com algum detalhe a uma grande mancha negra tem infuenciado a minha maneira de ver as coisas, de modo que progressivamente vejo formas e contrastes imediatamente quando faço as fotografias. Tenho muito menos trabalho de câmara escura agora do que tinha há dez anos.
Sempre disse que o grão é a alma da película, é o pigmento da fotografia. É a única matéria que eu posso trabalhar, porque a fotografia é totalmente bidimensional, ao contrário do que pode suceder na pintura. A única hipótese de trabalhar o que quer que seja é na impressão, na prova, na maneira como se doseiam a luz e os pretos, os brancos e os cinzentos. Também sempre achei que as provas fotográficas quando eram muito escuras faziam com que as pessoas se aproximassem mais. Sempre quis fazer provas pequenas e escuras, porque o tipo de impacto das provas grandes não me interessa. Estas obrigam a chegar mais perto e a pensar: por que está isto aqui? o que é isto? Obrigam a descobrir o que eu já vi antes.
Se tiver de me auto-catalogar, acho que sou um fotógrafo documental, de uma maneira muito subjectiva, porque a reportagem tem conotações de actualidade que não me interessam, e a fotografia artística tem pretensões que a mim não me interessam também. Prefiro este pequeno espaço que está no meio, que é artesanal, que é de prospecção, de terreno, que envolve sempre andar e fazer quilómetros porque é nas distâncias que se encontra a proximidade.
A única recompensa que há, destes vinte e tal anos de trabalho, é o entusiasmo não ter baixado nunca, e à medida que vou progredindo vou notando o que há ainda a aprender, o que há ainda a traduzir com a mesma máquina, com a mesma objectiva, o mesmo ampliador, para tentar fazer sempre qualquer coisa de novo. Tem a ver com o olhar, e quando mais se olha mais se aprende a olhar, quanto mais se fotografa mais se aprende a fotografar, e o gozo é continuar a ter gozo. No dia em que não tiver gozo acabei.
#
"A matéria da luz "
Exposição e livro: "Penumbra"
As fotografias de Paulo Nozolino têm agora uma diferente gravidade. Elas decifravam-se antes como cenas de uma autobiografia sempre perseguida entre os retratos familiares e a ficção da viagem. Em trânsito, como uma «testemunha em fuga», dizia-se, as imagens podiam ver-se como o espelho onde se buscava o rosto do fotógrafo, mergulhando na distância de lugares abstractos ou voltando ao ponto de partida, em busca de uma identidade própria questionada como solidão e pertença a um estreito universo demasiado íntimo.
Agora, em Penumbra, exposição e livro, Paulo Nozolino mostra 45 fotografias feitas nos países árabes ao longo de doze anos, desde Marrocos até ao Iémene, como se de um projecto documental se tratasse, atravessando territórios que ocupam diariamente as primeiras páginas da actualidade. O mito da viagem, com que se cumpria também uma ilustre tradição fotográfica sempre recomeçável, seguindo as pegadas de anteriores fotógrafos viajantes para experimentar a frescura de um olhar próprio, Nozolino trocou-o agora por um mapa preciso.
Deixada a «autobiografia nómada», fórmula tantas vezes citada, o itinerário privado do fotógrafo ganhou a dimensão da procura de uma identidade colectiva, a de um povo inteiro, com o qual, aliás, se identifica a ideia de nomadismo. As suas fotografias não são, porém, documentais, tal como se supõe ser a objectividade da informação e a certeza das crenças. As datas ou os lugares de conflito que fazem as notícias não interessam a Nozolino e também as suas fotografias negras não nos apontam vítimas ou carrascos. O sol que queima o deserto e a sombra das ruelas do Cairo equivalem-se numa mesma meia luz, e as tensões adivinhadas são as mesmas de sempre, mais fundas e arcaicas que as bandeiras de circunstância. É de desafiar a invisibilidade — a dos estereótipos, da pressa, da neutralidade distante — que se trata, nestas imagens que fazem da diferença estreita entre o dia e a noite um território de emoções à flor da pele.
Compreender um povo é um projecto impossível senão no segredo das imagens. Penumbra é «essa terra de ninguém entre a luz e a sombra, entre o branco e o preto, entre a vida e a morte», como escreve Jorge Calado no início do belíssimo texto que escreveu para a edição portuguesa. E é também, como adiante diz Nozolino, a experiência de uma extrema dureza da vida associada ao desprendimento material de quem sabe viver sem nada. Descida aos infernos e revelação.
As suas imagens são escuras, mais ainda nas provas de exposição desenhadas pela alquimia do grão, sempre levada à perfeição dos mais absolutos contrastes do preto e branco, que é luz e matéria da fotografia. O que vemos é sempre o bastante porque é o essencial, mas as imagens exigem proximidade física e a atenção do olhar. No instante em que tudo misteriosamente se joga, a densidade da sombra que recorta uma parede é tão significante como a mãe que transporta a criança e ergue um braço heróico — demonstra-o a sequência da exposição. De um muro negro emerge, como uma aparição, um rosto de criança que, ao passar, sopra uma bola de sabão iluminada como uma lâmpada, num desafio à concentração do fotógrafo que é também o oferecimento mágico de um momento irrepetível (Cairo, Egipto, 1992).
A exposição que se estreia no CCB ver-se-á, em Setembro, numa das galerias da FNAC, em Paris, e o livro tem uma simultânea versão internacional e trilingue, publicada por um dos mais importantes editores de fotografia, a Scalo, de Zurique. As condições inultrapassáveis de produção correspondem, por uma vez, à excelência do trabalho de Nozolino.
#
entrevista III, 2005
«Continuo a afiar o lápis»
«Far Cry», livro e exposição em Serralves. Paulo Nozolino faz o balanço de 50 anos de vida e de 30 de fotografias
(Expresso Actual de 07 Maio 2005)
Como o livro homónimo, co-editado pela Steidl, de Göttingen, Far Cry é a síntese de um trabalho que é habitual ver referido como um dos mais originais entre a fotografia das últimas décadas. A beleza das imagens é inseparável da gravidade de uma visão do mundo. De quem se sente a viver «um pós-guerra qualquer» e dá forma a um grito profundo.
«Não tenho pressa. Estou interessado no que é eterno, no que ficará cá quando eu morrer»
O que é esta exposição?
O desafio era rever o trabalho todo, mas não queria fazer uma retrospectiva, porque não tenho idade para isso. Tenho 30 anos de trabalho e 50 de vida, acho que ainda é cedo de mais. Pretendi fazer um apanhado do que tinha sido importante ao longo de todas as séries que fiz e tentar manter uma ordem cronológica nessa escolha. Na Maison Européenne de la Photographie ("Nada", Paris 2002 ), mostrei uma primeira antologia que foi um teste para esta. Era uma exposição muito críptica, porque o espaço era reduzido, e eu quis depurar tanto que para muitas pessoas foi incompreensível.
A selecção foi muito radical.
Isso é um costume meu: tirar tudo aquilo que está a mais, tirar a carne e deixar só o osso.
Agora teve muito espaço.
Nas grandes exposições, corre-se o risco, quando ultrapassamos as 80 imagens, de começar a ser uma «overdose». Parti primeiro para uma selecção de 156 imagens e depois reduzi-as a 80. É uma necessidade quase visceral de concentrar as coisas, de não ter fotografias que se repitam, e quando se repetem é de propósito, para haver uma circularidade dentro da sequência e voltarmos a uma espécie de ponto de partida.
O percurso é autobiogáfico?
A minha fotografia é autobiográfica. Ou melhor, deixa de o ser, ou eu deixo de a assumir como tal, a partir de 1994 - que foi o ano em que visitei Auschwitz -, para se tornar numa coisa que espero que seja muito mais universal do que pessoal.
Tornou-se mais dramática a relação com o mundo?
Até eu ir a Auschwitz, a minha fotografia tem um peso diferente, depois começo a compreender que ela tem de ir para outro lado, não naquilo que estou a fotografar, porque o conteúdo não mudou essencialmente, nem mudou a técnica, nem a maneira como fotografo, mas mudou o ponto de vista. Digamos que a seguir a Auschwitz se afunilou o túnel dos meus interesses. Deixei de sentir necessidade de fazer fotografias que eram bonitas - entre aspas - para passar a fazer fotografias que eram necessárias. Vemos os filhos crescer, somos confrontados com os problemas de explicar o mundo que eles têm pela frente. Temos de dar defesas aos nossos filhos, temos de reagir, de compreender o mundo em que vivemos e de dar a ver às pessoas aquilo de que elas não se deverão nunca esquecer.
O balanço que faz é negro?
Não acho que seja terrível. É o nosso tempo, é o que herdámos e o que estamos a viver. Vivemos muito melhor do que se vivia no século XIX, mas temos outros males; não se morre de tuberculose, mas morre-se de «overdose». Os venenos diferem, os perigos são outros, mas, no fundo… é a vida.
Nunca foi fotojornalista...
Não, fui sempre autor.
Agora há um maior sentido de intervenção?
Eu não diria de intervenção, é sobretudo de esclarecimento para mim próprio sobre a história, sobre esse grande mistério que é a história, e revisitar o passado para mostrar pistas para o futuro. Tenho andado a trabalhar sobre a Europa, o que é o espírito europeu, a cultura europeia, e Auschwitz mostrou-me o local onde eclodiu o mal. É o próprio local do mal, o horror total. Eu tinha vivido livre de pesos históricos, mas a partir daí só posso pensar o que faço como uma fotografia pós-Auschwitz.
Foi esse o objectivo do projecto «Solo»?
O projecto não está acabado, é um «work in progress». Há dois tempos que se sobrepõem: quando estava a fazer o Penumbra, ao fim de 12 anos de viagens no mundo árabe, dei-me conta, em pleno Iémen, num café, a olhar para um homem, que o meu verdadeiro objectivo era tentar compreender a Europa. Era tempo de voltar aos velhos fantasmas. Isto aconteceu em 1995. Um ano antes, tinha visitado Auschwitz, e isso já estava no meu inconsciente. É nessa altura que ganho o prémio de Vevey (na Suíça), que me permitiu viajar na Europa e investigar um bocado mais, à minha maneira.
É então que crescem os formatos das fotografias?
Em 1997 fui convidado pelo Ricardo Pais a fazer uma exposição sobre Veneza no Teatro São João. Quando fui confrontado com o espaço, achei que a única maneira de fazer ali uma exposição era com provas grandes, uma coisa que até aí eu era completamente contra. Tanto o assunto como o local me obrigaram a isso, e gostei imenso do resultado. Logo a seguir surgiu uma encomenda dos Encontros de Coimbra, que coincidiu com um período muito difícil da minha vida: uma ruptura, o deixar de beber, uma depressão nervosa. Parti para Sarajevo num estado deplorável, e aquilo que trago, que deu origem à exposição «Tuga», foi um marco muito importante na minha vida. Essa exposição marcou o princípio de toda uma nova maneira de começar a trabalhar, já ao nível da tomada de vistas.
Houve então uma coincidência com as novas condições de exibição da fotografia?
Quando expus em Arles, em 1986, com o Martin Parr, o Bruce Gilden, o Max Pam e toda uma nova geração de fotógrafos, o François Hebel tinha-me aconselhado a expor grandes formatos. Nessa altura estava a expor «Limbo» e disse que não queria monumentalizar aquelas imagens, antes pelo contrário, porque eram fotografias íntimas. Mas as grandes provas não são uma coisa nova: o Martin Parr mostrou então grandes provas, e o Cartier-Bresson fazia exposições nos anos 50 com provas de dois metros. Há, a partir de fins da década de 80, um retomar da fotografia em grandes formatos pelos artistas plásticos.
É uma exigência do mercado da arte?
Não sei se será uma exigência do mercado. Não leio a coisa dessa maneira. Aquilo a que se chama fotografia plástica, feita pelos artistas, é normalmente de uma tal pobreza de conteúdo que houve necessidade de a tornar monumental, de fazer da coisa mais pequena e trivial um objecto de adoração, um ícone. Isso está presente na fotografia de imensa gente. O Gursky expõe em três metros uma prateleira de sapatos Prada; não pode haver coisa mais fútil, e daquele tamanho torna-se totalmente absurda e monumental, mas no fundo não deixa de ser interessante, porque é uma constatação da sociedade de consumo e do estado das coisas. O facto de ter aumentado o tamanho das minhas fotografias não mudou nada para mim. Continuo a dar uma importância enorme ao conteúdo das imagens, e não é pelo facto de elas serem grandes que estou a fazer uma coisa diferente. O problema não está aí, está em aguçar o olhar e em atingir aquilo que ainda não foi atingido. É um contínuo afiar do lápis.
E aparecem os dípticos, que são um novo tipo de obras...
Isso aconteceu em Mulhouse, que foi um projecto de residência, ao pé de Estrasburgo, a meias com o Stéphane Duroy, em que estive várias semanas em reportagem durante dois anos. É uma região que foi francesa, depois alemã, outra vez francesa… É um epicentro da Europa. Era extremamente difícil encontrar equivalentes visuais para tudo aquilo que sentia naquele local e para o que queria mostrar. É em Mulhouse que começo a sentir que uma imagem já não chega, que tenho de fazer um díptico para explicar uma situação. Na exposição «Tuga» tinha montado as fotografias em bloco, em resposta ao espaço das Caldeiras e por uma razão formal: era como um prédio, uma ruína que nos caía em cima... olhava-se de baixo para cima e sentíamo-nos pequenos. Nos dípticos e polípticos, a lógica é outra: eles dão uma força outra às imagens, diferente da montagem linear, que tem sentido para muitas coisas mas que para outras não faz sentido nenhum.
No seu trabalho têm muita importância as encomendas e a ideia de reportagem...
Reportagem é um nome que eu dou para me meter num estado de espírito quando vou a algum sítio para trazer algo; chamo a isso reportagem como poderia chamar missão; os franceses dizem «partir en mission». Não concebo a ideia de turismo, nunca viajaria se não fosse para tirar fotografias. As encomendas surgem a certa altura da minha vida como resultado da incapacidade que os editores tiveram de colocar as minhas imagens. Eram confrontados com o que eu fazia, gostavam imenso, mas não tinham condições de as encaixar e arranjaram sempre maneiras de sugerir o meu nome a pessoas que me deram carta branca e liberdade de fazer aquilo que queria. Tornei-me autor porque a minha fotografia não cabia em nenhum nicho, nem no jornalismo, nem na fotografia de arte - entre aspas. Era um produto híbrido, uma visão muito pessoal das coisas, muito negra, muito pessimista, em que ninguém estava particularmente interessado. A não ser algumas pessoas.
Como é que são essas viagens de trabalho?
Tem de haver disponibilidade total para a fotografia, ela não permite voltar às sete da tarde para casa para jantar ou para dar um biberão a uma criança. Tens de andar oito a dez horas por dia e de te entregar a isso de corpo e alma durante uma semana, duas, três. As condições ideais são, efectivamente, as da viagem, porque estás confrontado com paisagens novas, caras novas, novas atmosferas. Tens de te levantar cedo, fazer uma sesta a meio da tarde, voltar a trabalhar pela noite dentro. E andar a pé, andar a pé. Não sei como poderia fazer de outra maneira, porque a minha fotografia não é encenada, não parto de uma ideia, não estou a fazer fotografia de estúdio, não desenho as minhas fotografias antes de as fazer, de modo que sou tudo menos um conceptual. Eu reajo às coisas que vejo e procuro ir para sítios que avivem a minha sensibilidade. Necessito do real, trabalho a partir do real, o real é a minha fonte. Para o encontrar tenho de ir à procura dele, e o confronto maior que temos connosco mesmo é essa solidão da marcha e da procura. É nas ruas sórdidas das cidades deste mundo que vemos o que é verdadeiramente a realidade. O resto é aquilo que eles nos dão através do tubo catódico, o que eles nos querem fazem crer. Mas nada, nada, substitui a vida, o conhecimento não substitui a vida.
Porque regressou a Portugal?
Porque me apaixonei. E a minha vida é mais importante do que o meu trabalho. É indiferente o sítio onde vivo, pois há sempre aviões ou comboios.
É possível continuar uma carreira internacional a partir do Porto?
Sou uma pessoa de agir, depois o que acontecer acontece... e sei que tenho uma boa estrela. Nunca gostei de forçar nada nem ninguém; se há convites é porque há quem esteja verdadeiramente interessado no meu trabalho. Nunca me preocupei muito com a carreira, nunca quis entrar para a Magnum, nunca quis fazer parte de grupos elitistas e tive sempre uma posição muito individualista em relação à fotografia. Não faço parte de nenhum grupo e, francamente, não vejo nada parecido com o que faço. Tenho vindo a fazer sempre o mesmo trabalho, nada mudou. A única coisa é ter agora um pouco mais sucesso que tinha há dez anos, mas é tudo.
Como se não tivesse pressa?
Não tenho pressa, todo o meu sistema de trabalho é precisamente o intemporal, estou interessado no que é eterno, no que ficará cá quando eu morrer. As minhas fotografias querem-se intemporais, eu quero poder olhar para elas hoje da mesma maneira que olhei há 20 anos. Esse é o teste da durabilidade das coisas e esse é que é o meu tempo. É um não tempo. Não tenho pressa e não há sítio para chegar. Não é por expor em Nova Iorque ou em Berlim que se é mais do que aquilo que se é. A única coisa que sei é que se é tão bom como a última fotografia que se fez, como a última exposição ou o último livro.